

Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que qualquer pessoa tem o direito de escolher a forma como deseja ser chamada, independentemente de decisão judicial e de ter realizado cirurgia de redesignação de sexo. O entendimento da Corte é que bastará o interessado ir a um cartório, autodeclarar sua identidade psicossocial e solicitar a mudança. Enquanto não é publicado o acórdão do STF e regulamentado todo o trâmite, dezenas de pessoas trans continuam buscando na Justiça, com base no princípio da dignidade humana, o direito de ter um nome compatível com sua identidade e aparência. No Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a Vara de Registros Públicos dedica duas tardes da semana para estas demandas. |
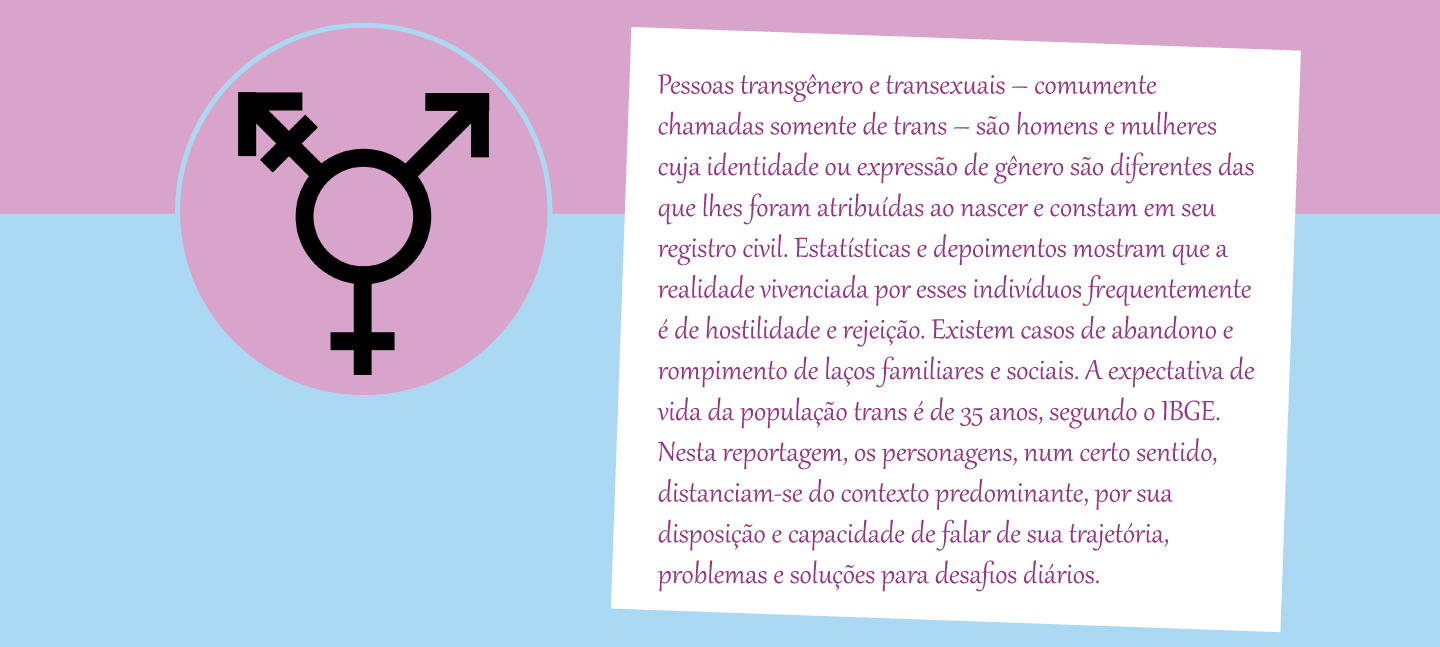
De vestido estampado, cabelos escovados e rosto maquiado, Larah observa a mãe falar sobre ela. Dona Elza está sentada na porta do pequeno barracão, num lote com mais duas moradias, no Bairro São Lucas, onde vivem.
Larah segura a carteira de identidade “novinha em folha”, na qual já consta o novo nome. Ela é uma mulher transgênero de 25 anos e conseguiu na Justiça que seu nome fosse alterado na certidão de nascimento de Warley para Larah. O processo correu na Vara de Registros Públicos do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, com assistência da Defensoria Pública de Minas Gerais.
Com a decisão, Larah passou a ter um nome feminino, como é sua aparência desde os 18 anos de idade, quando começou o processo de transição com hormônios femininos por conta própria. Hoje o tratamento é assistido por médicos do SUS.
A audiência de Larah ocorreu no mês de março deste ano e todos os documentos (CPF, título de eleitor, carteira do posto de saúde) já estavam alterados em junho. Com a ordem judicial na mão, ela foi ao cartório mudar o nome na certidão de nascimento, para, em seguida, alterar os demais documentos.
Para Larah, a mudança do nome foi a morte de Warley. Desde criança ela sabia que era diferente da maioria dos meninos com que convivia. Sempre andava com as meninas, preferia as bonecas aos carrinhos, vestia roupas da mãe, entre outros gostos que a diferenciavam dos demais meninos.
Aos 16 anos revelou-se homossexual para dona Elza. A decisão de se definir como um menino gay, segundo Larah, aconteceu por falta de informação. Aos 18, mais informada – já trabalhava e saía à noite com a turma de amigos gays – descobriu-se uma mulher transgênero. No início só se vestia como mulher à noite, mas em pouco tempo surgia Larah.
De Warley só resta uma foto num porta-retratos na estante do pequeno espaço que serve de sala e cozinha do barracão onde vivem. A imagem está ali porque Dona Elza não deixou Larah queimar o retrato, como ela fez com todos os outros vestígios de Warley.

Aos 54 anos, afastada do trabalho por problemas de saúde e em recuperação de uma cirurgia bariátrica, a mãe, dona Elza, não esconde que prefere Larah a Warley. Hoje, situações simples, como o pedido da filha para ajustar o sutiã, o palpite sobre um sapato ou perfume e a constância de um diálogo frequente, franco e amoroso entre elas deixa dona Elza muito feliz.
O menino não era assim, conta dona Elza. Cresceu arredio, não aceitava carinhos da mãe, falava pouco. Dona Elza sempre observou que o filho tinha algo de diferente dos outros meninos.
Warley nunca gostou de brincar com os meninos. Na adolescência, “andava com uma penca de meninas”, recorda-se a mãe. Dona Elza chorou muito quando Warley revelou-se gay, mas rapidamente aceitou.
A aceitação de Larah veio naturalmente. Ela se recorda do tempo em que o filho adotou o nome. Quando chamava Larah de Warley ela reclamava : “Mãe, Warley morreu”. Com isso, dona Elza acha “que acabou matando um pouco o filho”.
O preconceito, e junto com ele a falta de trabalho, isso é que entristece dona Elza. “Ela é trabalhadeira. A comida dela é uma delícia. Minha filha é honesta. Não é extravagante; sabe entrar e sair de qualquer lugar”, conta orgulhosa, na esperança de que Larah encontre um emprego.
Larah já trabalhou numa lanchonete e num supermercado na região centro-sul de Belo Horizonte. Atualmente está desempregada. Numa seleção para uma vaga formal de trabalho, antes ainda da mudança de nome, ela passou por duas etapas e, na terceira, quando conversou com um psicólogo e apresentou os documentos, foi eliminada. A situação a deixou muito triste e desanimada para voltar a buscar um emprego, conta a mãe.
“Matamos um leão por dia, às vezes até mais”, conta Larah. No posto de saúde do bairro sempre foi bem atendida, pois foi criada na região. Mas demorou para conseguir que todos a chamassem de Larah. Ser chamada em público pelo nome de registro primitivo, sem alteração, é um martírio para toda a população trans.
O PROCESSO
As tardes de segunda e quarta-feira na sala de audiências da Vara de Registros Públicos do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, são marcadas por relatos tristes, lembranças de constrangimentos e situações de exclusão. As narrativas, na maioria dos casos, vão desde a infância, chegando à vida adulta. É nessas audiências que mulheres e homens transgênero e transexuais da capital mineira justificam os pedidos feitos à Justiça nas ações de retificação de registro civil ou de mudança de nome. Na Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, o pregão da parte – pessoa que ajuíza a ação – é feito com o nome social. A chamada em voz alta, no corredor, é uma decisão da juíza e encontra amparo legal num decreto de 2016. “Espero que esta seja a última vez que você tenha de contar a história de sua vida para alguém, sem desejar fazê-lo, para conseguir ser respeitada. Mas preciso saber de tudo para decidir; preciso saber o que aconteceu. Vamos voltar à sua infância; conte-me seus conflitos.” É com essa abordagem que a juíza titular da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, abre as audiências das pessoas trans interessadas em mudar de nome.  |
|
Muitas choram quando relembram as histórias, diz a juíza. Uma jovem trans conta que nunca conseguiu ter uma boneca e tinha de se contentar com um urso de pelúcia, pois era o único “boneco” que um menino poderia ter; outra teve o cabelo cortado à força pelo padrasto e, sentindo-se violentada, acabou saindo de casa. O apoio da família é fundamental no rumo que a vida da pessoa toma, e a falta de apoio é porta aberta para a prostituição, avalia a juíza. |
Heitor, 22 anos, é um jovem trans. Em um fim de tarde, vestido com camiseta de malha, camisa xadrez de manga comprida por cima, boné e com a barba por fazer, ele monta as mesas de madeira do bar que administra com a amiga trans Nina, em Belo Horizonte.
Ter um emprego e ainda ser respeitado no ambiente de trabalho, sendo publicamente um transexual, é uma excepcionalidade no mundo trans. "Sou muito privilegiado porque nunca trabalhei num local em que tenha sido destratado. Sempre as pessoas sabiam da causa. O lugar já aceitava pessoas trans. Tive essa sorte", conta ele.
Olímpia é um bar vegano e está instalado no Edifício Maletta, na varanda que observa a Avenida Augusto de Lima. O bar emprega outra jovem trans e, sempre que precisa de ajudantes freelancers, a preferência é pela população trans.
Heitor morava no interior do Rio de Janeiro com a família, que sempre acompanhou o desenvolvimento de sua sexualidade, sem reprovação, mas também sem incentivar. Aos 17 era visto como uma menina lésbica. Em 2014, aos 18 anos, veio de mudança para Belo Horizonte e começou a trabalhar como cozinheiro em um restaurante.
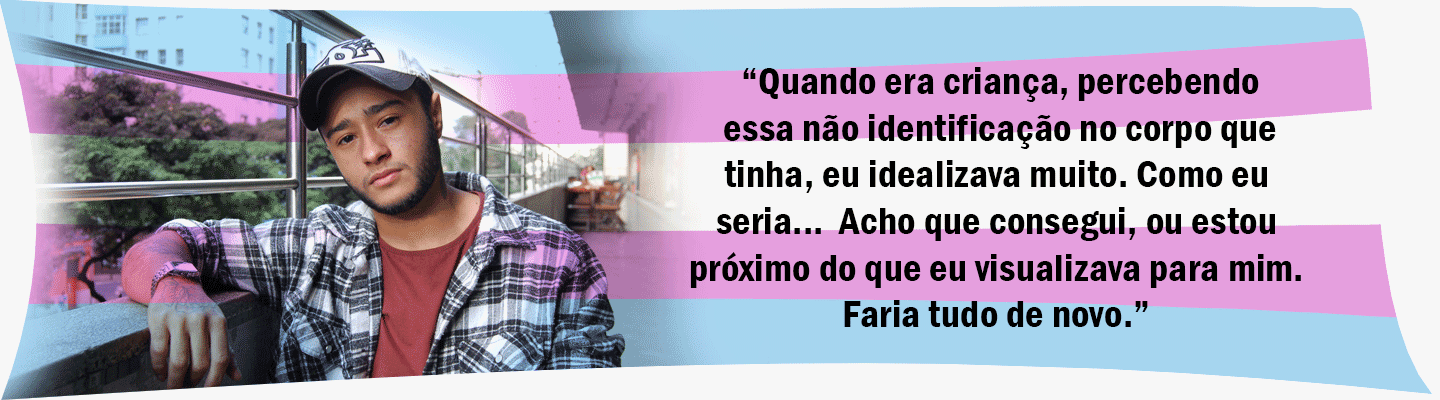
O jovem fluminense veio para Belo Horizonte por causa da namorada, uma jovem trans de 24 anos, sua companheira até hoje. Mas também contaram, para a decisão da vinda, os contatos que já tinha feito para a cirurgia de mastectomia, feita logo que chegou, e a vontade de morar numa cidade maior.
O corpo de Heitor respondeu bem ao tratamento com hormônios. Quando começou a tomar os medicamentos, ainda aos 17 anos, lembra que, em menos de um mês, sua voz começou a mudar e cresceram mais pelos no seu corpo. Heitor tem o que se convencionou chamar de "boa passabilidade cis". O termo designa a característica pela qual um indivíduo aparenta pertencer ao gênero de identidade.
A troca do nome, segundo Heitor, vai incentivá-lo a voltar a estudar. Ele largou o ensino médio quase no final, mas tem vontade de fazer uma faculdade. Com o antigo nome, confessa, tinha receio de enfrentar dificuldades para ser tratado pelo nome social. Mas acha que demorou a procurar a Justiça pelo fato de ser bem aceito no trabalho e no meio em que circula.
Heitor relata alguns constrangimentos por que passou na época em que tinha um nome feminino e já possuía aparência masculina, mas diz acreditar que isso acontece muito menos com as mulheres trans. "Não tinha que lidar com isso todos os dias', lembra. Para ele, as situações embaraçosas aconteciam numa entrada de festa ou ao identificar-se na portaria ou recepção de um prédio comercial.
"Quando era criança, percebendo essa não identificação no corpo que tinha, eu idealizava muito. Como eu seria... Acho que consegui, ou estou próximo do que eu visualizava para mim. Faria tudo de novo", declara Heitor.
O ACESSO À JUSTIÇA
"A pessoa ter um nome que não representa o que ela é, isso é um verdadeiro empecilho para tramitar nos ambientes coletivos da sociedade: trabalho, escola, ambientes públicos", diz o defensor público Vladimir de Souza Rodrigues. A demanda da população pela mudança de nome já existia quando Vladimir Rodrigues chegou ao Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, há dois anos. As ONGs e a Prefeitura de Belo Horizonte já faziam esse encaminhamento. Mas o aumento nos últimos tempos foi enorme, segundo o defensor. Principalmente por causa das redes sociais. Ele mantém uma página no Facebook voltada para a população trans e é por esse canal de atendimento e pelo "boca a boca" que a população fica sabendo do serviço oferecido pela Defensoria. O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, coordenado por Vladimir, é que atende as mulheres e os homens trans que buscam a modificação de nome na Justiça.  |
|
Para o defensor público Vladimir Rodrigues, a decisão do Supremo foi histórica. "Nos casos em que a vida íntima da pessoa não cause nenhum mal a terceiro ou à sociedade, não tem por que o Estado se meter", defende. Mas há situações em que é necessário o apoio do poder público a esses grupos. A expectativa de vida da população trans é de 35 anos, segundo o IBGE. Assassinatos transfóbicos contribuem significativamente para esse número. "Muitos morrem de doenças que só matavam antigamente. Só entram no SUS em caso de emergência", informa Vladimir. A população trans tem muita dificuldade no trabalho, na escola, em ambientes públicos, nos postos de saúde. "Na maioria das vezes, eles não continuaram os estudos, em virtude da não aceitação da identidade de gênero", explica o defensor. "Isso por si só já é um problema na vida da pessoa." A atuação da família é importantíssima, destaca ele, porque já se espera que a sociedade seja excludente e preconceituosa. Quando a família acolhe a pessoa trans, esta tem mais chances de concluir os estudos e se inserir no mercado de trabalho, diz. Geralmente as questões de orientação florescem no início da adolescência, continua. "Se a pessoa é expulsa de casa, espancada e não recebe apoio da família, infelizmente, muitas vezes o caminho de sobrevivência é a prostituição", diz. O defensor comemora as conquistas obtidas pela população a partir de decisões do Judiciário, mas avalia que os avanços deveriam vir do Executivo e do Legislativo, que são os responsáveis pela implantação de políticas públicas para grupos menos favorecidos. |
O DIREITO
O STF entendeu que a previsão de mudança de nome prevista na Lei de Registro Civil (Lei 6.015/73) deve atender pessoas trans, com base no princípio da dignidade humana, independentemente da cirurgia de transgenitalização.
A realização ou não da cirurgia não pesa na decisão da juíza Maria Luiza Pires. Segundo ela, a maioria das pessoas que tem vontade de passar pela operação não tem condições de custear a cirurgia particular e a fila do serviço público é enorme, com anos de espera. Apenas cinco hospitais fazem pelo SUS a cirurgia de redesignação de sexo. "Não podemos tratar de forma diferente quem não teve acesso", argumenta a magistrada. O mesmo pensamento teve o STF.
"Confesso que, quando cheguei à Vara de Registros Públicos e fui lidar com a questão, não sabia nada. O primeiro olhar, pela falta de conhecimento, é de estranhamento. Há muita discordância entre juízes e promotores. Cada um traz a sua influência pessoal. Cada um decide com a bagagem que traz, sua criação, sua vivência", conta a juíza.
Todos os pedidos julgados por ela foram deferidos. "Bastou uma primeira audiência para entender o drama dessa população", afirma. Para a juíza, o nome não pode trazer sofrimento e constrangimento para a pessoa. "Ela não se identifica com o nome, que a faz passar vergonha, constrangimento. Não podemos impor isso a uma pessoa a vida toda", afirma.
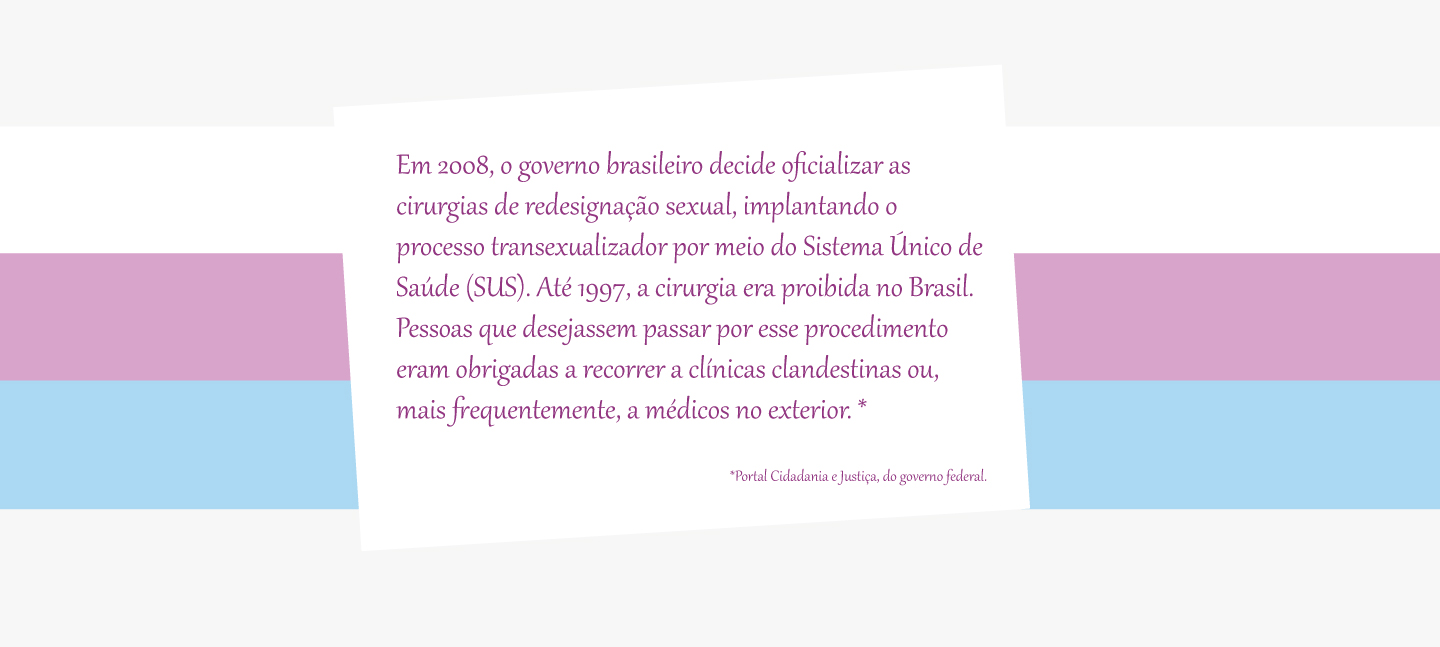
Shátilla desde nova se incomodava quando se olhava no espelho. Na infância, sempre se identificou com as meninas. Pediu e ganhou uma Barbie de presente. Com cerca de 10 anos já sabia que gostava de meninos e contou isso para uma tia e para a avó. Andava com amigos gays, mas observava que na turma só ela gostava de se maquiar e usar roupas femininas.

Com 13 começou a tomar hormônios e passou a se nominar Leona. Aos 18 anos foi batizada Shátilla pelas amigas trans. No pedido apresentado à Justiça, queria se chamar Shátilla Romanov. Mas, como já era conhecida em casa por Leona e a juíza não aceitou o pedido para incluir o sobrenome, ficou feliz em adotar o nome Shátilla Leona.
A DEMANDA DA POPULAÇÃO
A Defensoria Pública responde por aproximadamente 90% do acervo dos processos relacionados com a população trans. O restante tem como representantes advogados particulares e núcleos de assistência jurídica de faculdades. A juíza Maria Luíza Pires separa duas tardes por semana para fazer essas audiências. Quando chegou à vara, separava uma tarde a cada duas semanas. Mesmo com a pauta quadruplicada, o tempo de espera para marcar as audiências para mudança de nome varia de oito a dez meses. A Vara de Registros Públicos tem ainda outras competências, como causas de usucapião e as suscitações de dúvida sobre nomes feitas diariamente pelos cartórios de Belo Horizonte. |
"Acho que essa é uma das maiores belezas de ser uma pessoa trans. A possibilidade e a oportunidade de escolher seu próprio nome, que é um lugar de identidade muito grande", conta espontaneamente Luna, 22 anos, estudante de artes plásticas na Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
Ela teve acesso a educação, morou fora do país num intercâmbio, tem o apoio dos familiares e um emprego num escritório de contabilidade da família, além de ser estudante universitária. Luna é o ponto fora da curva. Sua audiência no processo de mudança de nome foi realizada em junho.
Luna reconhece o lugar de privilégio que tem no contexto trans e, provavelmente por isso, é muito engajada na defesa de toda a população trans. A faculdade de Psicologia, que ela trocou pelo curso de Artes Plásticas, contribuiu para que a jovem construísse um discurso consistente e claro sobre os desafios enfrentados por toda a população trans.
Ela vê na falta de capacitação para o trabalho o maior problema enfrentado pelas pessoas trans e diz entender perfeitamente que a maioria abandone a escola. "Se você começa a transição cedo, ainda na escola, e diretores, professores e colegas não "facilitam" sua vida; em favor de sua saúde mental, você acaba evitando esses locais", explica.
O entendimento sobre o que é transgeneridade pela população, por meio de informação e campanhas, também é apontado por Luna como outro desafio. "Eu, por exemplo, demorei muito tempo para descobrir o que era isso. Pode ser que existam meninos e meninas por aí na mesma situação. Campanhas de conscientização ajudariam inclusive os pais", afirma.
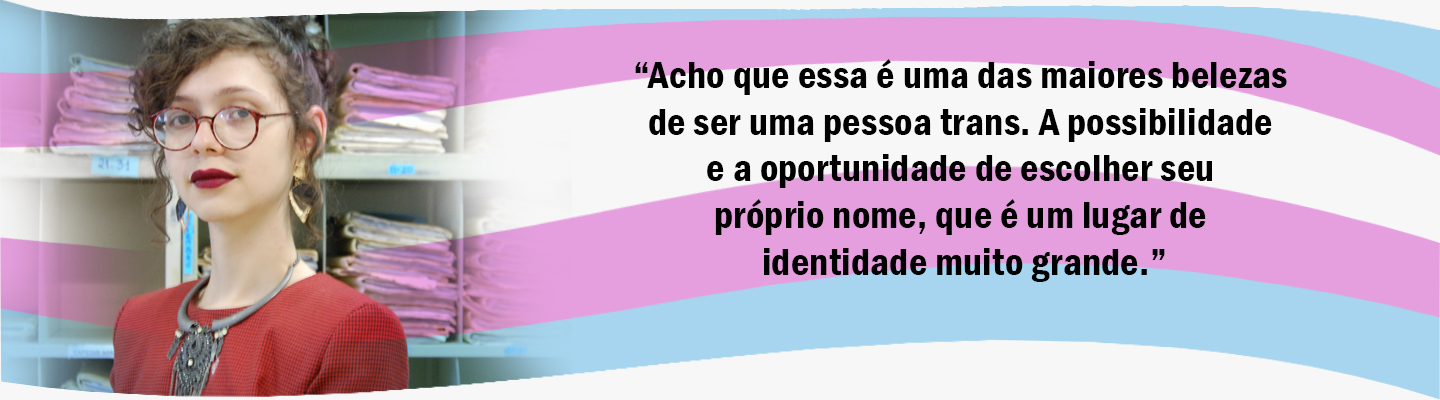
Quando criança, Luna sempre teve traços finos e cabelos grandes, o que fazia com que as pessoas já questionassem se ela era menino ou menina. Luna conta que "achava isso o máximo", pois permitia que ela transitasse nas rodas dos meninos, com menos frequência, e das meninas, "sem nenhum problema". "Adorava estar nesse símbolo"
Na adolescência as características masculinas, ainda que com pouca intensidade, começaram a se tornar evidentes, e a sociedade começou a cobrar e questionar Luna, o que complicou um pouco as coisas. Ela já sabia que gostava de meninos e foi enquadrada como gay.
Morando fora do Brasil, num país de língua inglesa, cujo idioma não faz muita distinção de gênero, Luna sentiu-se à vontade para "performar o seu gênero". Passou a entender que seu processo não estava ligado à sexualidade e, sim, à identidade de gênero. "Assim que entendi essa questão, resolvi embarcar nesse lugar e me afirmar como mulher, adequar o nome à minha identidade. Esse processo foi muito gostoso", conta ela.
"Eu reconheço que quando as pessoas olham para mim não há dúvida sobre a minha identidade de gênero, as pessoas não questionam a veracidade do que elas veem. E isso me abre muito espaço; espaço entre aspas", argumenta Luna, em relação à sua passabilidade cis. "Não quero dizer que seria menos mulher se eu não tivesse tanta passabilidade", destaca.
O cenário que se forma, então, parece uma ironia, segundo Luna. "Vivemos em uma sociedade machista, majoritariamente. Então é quase uma piada eu dizer que a passabilidade é um privilégio; mas, em relação a outras meninas, é sim."
Luna conta que começou a passar despercebida pela sociedade após a transição. Antes, devido à ambiguidade de sua aparência, sofria mais ataques homofóbicos. "Se eu sou uma "pessoa passável", o máximo que vai acontecer é eu tomar uma cantada " o que já é terrível ", mas é melhor tomar uma cantada que tomar um tiro."
